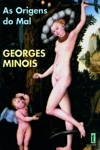- Titulo:
HISTORIA DO RISO E DO ESCARNIO
- Autor:
Georges Minois
- Editora:
Teorema
- Coleção:
Teorema Serie Especial nº 77
- ISBN:
978-972-695-741-6
- Tema:
Geral
- Sinopse:
riso é uma virtude que Deus deu aos homens para os consolar por serem inteligentes, dizia Marcel Pagnol. Uma virtude que tem mais de dois mil anos, como testemunham as recolhas de histórias engraçadas com que já os gregos e os romanos se deliciavam. Mas podemos rir de tudo? Sim, afirma Demócrito cujo riso atrevido tem acentos espantosamente modernos. Sim, diz também CÃcero, que inventaria mil formas de fazer rir. Não, proclamam em contrapartida os Padres da Igreja, porque o riso é um fenómeno diabólico, um insulto à criação divina, uma manifestação de orgulho. Os seus argumentos contudo não foram ouvidos na Idade Média: os reis fazem-se rodear de bobos, os homens divertem-se a rir uns dos outros, quando das assuadas, e o humor, que ainda não é mais do que paródia, infiltra-se mesmo nos sermões dos pregadores. Com Rabelais, surge uma outra forma de rir, um riso ambÃguo que abala todas as certezas e prolonga-se para além do Renascimento, um riso ora picaresco, ora grotesco, ora burlesco. A monarquia absoluta quer fazer entrar na ordem todos os amantes do riso. Mas será possÃvel domesticar o riso? Disfarçado de humor ácido, o riso corrói pouco a pouco os fundamentos do poder e da sociedade. No século XIX, o humor encontra o seu terreno predilecto na sátira polÃtica, enquanto que os filósofos dissecam as suas virtudes, por vezes para as deplorarem, e Baudelaire procura o «cómico absoluto». A ironia torna-se uma forma de relação do homem com o mundo. Protege contra a angustia e, ao mesmo tempo exprime-a. «Eu rio-me com o velho maquinista Destino», escreve VÃtor Hugo, que fixa em fórmulas imortais a ambiguidade do riso. O século XIX acaba com uma apoteose do riso e do nonsense. A partir de então, o mundo vai escarnecer de tudo, dos seus deuses como dos seus demónios.